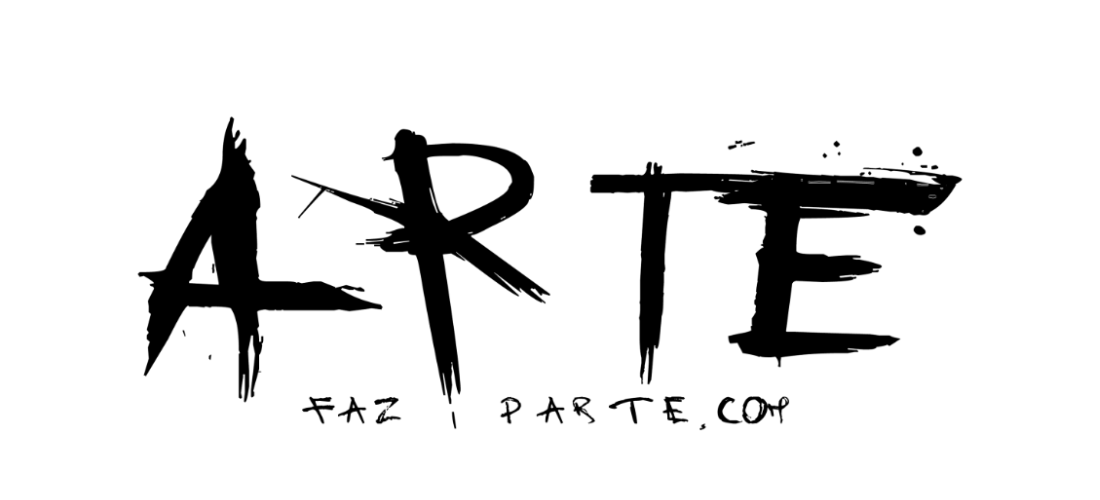|
| América Latina (1977), de Anna Bella Geiger |
“Vivi meus primeiros anos de leitor e de escritor numa fase na qual o literário era fundamentalmente ler os melhores livros a que tivéssemos acesso e escrever com os olhos fixos, em alguns casos, nos modelos ilustres e, em outros, num ideal de perfeição estilística”, Cortázar explica em uma das aulas oferecidas durante sua curta temporada na Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos. Ao comentar sua juventude em Buenos Aires, aponta para o seu raso conhecimento de mundo à época, basicamente restrito à realidade burguesa portenha. A distância que o separava de uma consciência sociopolítica mais profunda se refletia em personagens postos a serviço do fantástico: “o que realmente me importava”, disse ele, “era o mecanismo do conto, seus elementos finalmente estéticos, sua conjunção literária com tudo o que pode haver de belo, de maravilhoso e de positivo”.
Essa relação me parece um tanto problemática, assim como a diversos críticos que notaram, por exemplo, uma alusão à repressão argentina já no primeiro conto do primeiro livro de Cortázar – A casa tomada, na coletânea intitulada Bestiário. Mas faz sentido se considerarmos que, de fato, a estrutura daqueles textos está toda trabalhando para a irrupção de um fantástico. Voltaremos a isso adiante. Por ora, quero pontuar apenas que o escritor trata a estética num sentido restrito, que hoje se vê mais expandido e imiscuído numa ideia também ampliada de política.
O divisor de águas entre essa etapa da trajetória de Cortázar e a seguinte seria o conto O perseguidor, que compõe o livro As armas secretas. O exílio em Paris o levara a se “interessar cada vez mais pelos mecanismos psicológicos, os dramas de vida, de amor, de morte, o destino”.
O perseguidor é um mergulho às cegas na realidade de um músico de jazz negro, doente e viciado, que vive num descompasso em relação à previsível classe média compradora de seus discos. O autor esmiúça os conflitos do personagem por meio do embate com as expectativas do amigo – um crítico de música –, que narra a história segundo a sua perspectiva e consciente de que jamais chegará à intimidade do saxofonista, sobre o qual, ironicamente, até mesmo escreveu um livro.
Essa fase dita metafísica atinge o auge com o romance O jogo da amarelinha, após o qual sua obra começa a tomar uma forma mais engajada, por assim dizer. Ao se perceber além do contexto argentino, Cortázar assume a literatura como uma obrigação cívica: “eu tinha de investir nos termos e na condição de latino-americano, com tudo o que trazia de responsabilidade e dever, tinha de inseri-la também no trabalho literário. Por isso acho que posso usar o nome ‘etapa histórica’, ou seja, ingresso na história, para descrever essa última baliza em meu caminho de escritor”.
Eis que a literatura se revela para ele uma forma de participar dos processos históricos que “concernem a cada um em seu país”. Trata-se de um mecanismo não apenas estético ou psicológico, mas também – e em primeiro lugar – de atuação política. Como o próprio autor explica, “no decorrer das últimas três décadas, a literatura de tipo exclusivamente individual, essa literatura pela arte e pela literatura cedeu terreno a uma nova geração de escritores muito mais implicada nos processos de combate, de luta, de discussão, de crise de seu próprio povo e dos povos em conjunto”.
Cortázar expressou essas ideias no início dos anos 1980. Seu olhar aguçado para a produção contemporânea vislumbrou o que viria a constituir uma realidade do que hoje lemos, discutimos e premiamos, tanto em âmbito nacional quanto internacional. Seria uma questão inédita? Se lembrarmos das tragédias gregas, de Dante, Zola ou Mário de Andrade, veremos que não. Todavia, o que é próprio de Cortázar foi a tomada de consciência de seu papel de agente político por meio de literatura. Esse é o ponto que me parece contraditório na organização que faz da própria obra: a estética não deveria ser uma etapa anterior à política, que no caso ele associa à realidade histórica – ambas estão interlaçadas ao ponto de serem indiscerníveis e, por conta disso, sua atuação se dá por meio da escrita literária.
Tal impossibilidade de discernimento também pode ser vista no sentido inverso: toda ação política se dará por meio de uma elaboração na linguagem que, no limite, será uma criação estética. Essa noção talvez não estivesse clara para Cortázar, mas com ela podemos retomar sua obra hoje e perceber algo deveras político naquilo que para ele possuía zero engajamento, como em A casa tomada.
É vital que a arte dê lugar a vozes emudecidas e a existências ocultadas na realidade comum. Para isso ela não precisa ser declaradamente engajada, como alguns exemplos que vez ou outra esterilizam discursos de resistência e menosprezam o potencial contestatório da criação ao confundi-la com panfletagem. Ainda que a primeira literatura de Cortázar não tenha a consciência de seus últimos escritos, já havia implicado nela um autor incomodado com o seu tempo e a sua realidade. Já estava constituída, portanto, uma política, que se transformou e persistiu até o seu ponto final.