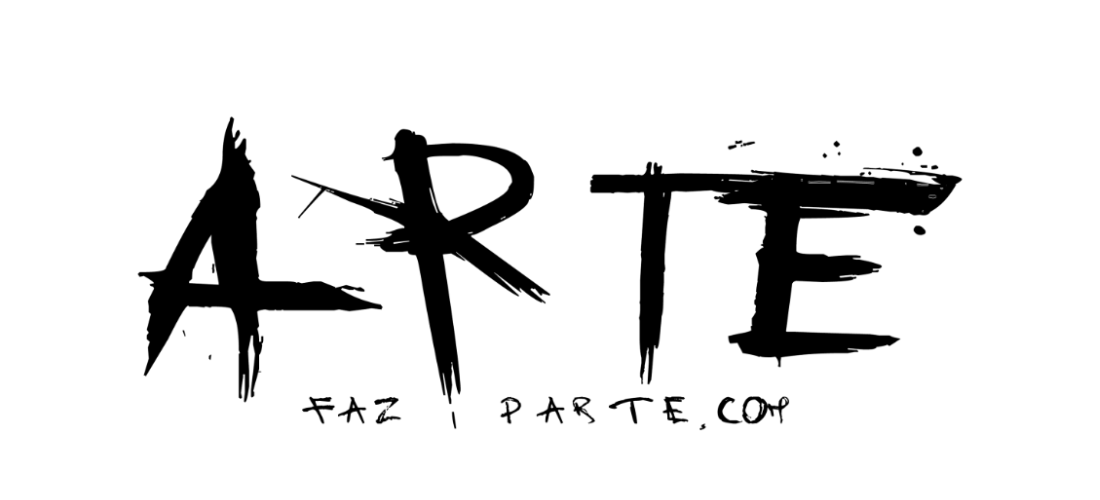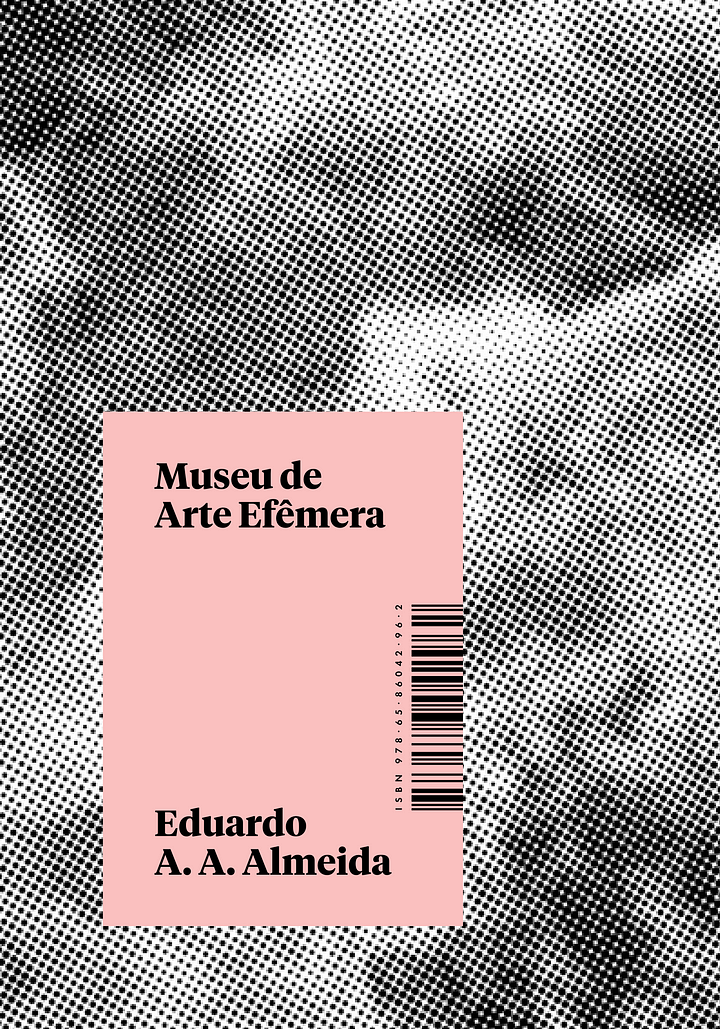Tal intenção é ousada: profanar as sacrossantas histórias familiares (as suas próprias, no caso). E nesse sentido Lucas Verzola traduz aquela inspiração russa para um contexto brasileiro que resvala em Nelson Rodrigues, explicitando hipocrisias, descaracterizando moralismos disfarçados de tradição, escarafunchando violências recatadas e do lar, fuxicando escândalos íntimos.
“Então, essa é a graça da humanidade. A gente está sempre andando e sempre no mesmo lugar.”
Infelizes à sua maneira, Lucas Verzola
Eu sabia que queria explorar histórias familiares e as fotografias sempre me pareceram pontos de partida interessantíssimos. Vários autores contemporâneos trabalharam assim, basta citar o livro de poemas Álbum, da Ana Elisa Ribeiro, e o romance Saia da frente do meu sol, do Felipe Charbel. Mas o Bruno Zeni tem um conto, publicado no jornal Cândido, que foi a minha principal influência. Ele descreve em detalhes uma foto do pai com os avós e especula muita coisa — enfim, bons contos não são passíveis de resumo –, o que tinha a ver com as investigações que eu desejava desenvolver. Eu até tentei imitar, como exercício, o que o Zeni fez com fotos minhas, mas não gostei do resultado e deixei meio de lado. Quando o editor Cassiano Viana, um grande amigo, me convidou para escrever um texto que se relacionasse de alguma forma com o universo das fotografias, eu retomei o projeto, mas precisei entender aonde queria chegar. A partir dessa compreensão, tive uma fase criativa muito boa e não demorei para reunir uma quantidade de contos que podiam compor um livro, que desde sempre foi imaginado enquanto um objeto artístico. Eu jamais cogitei levar as duplas de texto e imagem para um livro tradicional.
Embora o livro traga duplas formadas quase sempre por uma foto e um texto, este não é descrição, legenda ou comentário daquela, chegando mesmo a ser uma imagem outra, distorcida, até uma contradição. Como você lidou com essa relação entre a imagem e a narrativa em prosa, de modo que pudessem aparecer lado a lado nas páginas do Infelizes à sua maneira?
Escrever sobre imagens, a partir de fotos ou até mesmo ter uma imagem ilustrando um texto são agires estéticos diferentes. E eu decidi outro caminho: escrever contra fotografias. Claro que informalmente eu sigo dizendo que os textos partem das fotos, o que é mais fácil de explicar, mas a verdade é que o que me moveu foi a criação ficcional e que os elementos fotográficos compõem — e não ilustram — a criação literária. Personagens são inventados tanto no texto como na foto, e ao mesmo tempo em que minha ação procurava enquadrar os contos como se fotografias fossem, eu também desejava transformar as fotografias em ficção. Falamos muito em borrar as fronteiras dos gêneros literários para explorar novas formas e entender como cada história pode ser contada — e eu fiz bastante isso em Em conflito com a lei –, mas o passo que eu tentei dar aqui foi além, foi tentar borrar as fronteiras entre dois domínios artísticos: a fotografia e a literatura. O que uma pode emprestar para a outra? Essa pergunta foi uma das que me orientaram durante a execução do projeto.
As imagens foram selecionadas do seu acervo familiar. Você conhece e de fato se inspirou nas pessoas retratadas? Em que medida tomou liberdades para criar ficções ou se manteve fiel a uma narrativa já estabelecida sobre este ou aquele familiar? Também me interessa saber como você pensa essa transferência de um material íntimo para a esfera pública.
Vou começar pelo final, porque é algo em que penso muito desde que mergulhei no projeto. Hoje em dia, as manifestações artísticas que mais me interessam são justamente as que constroem, de alguma forma, pontes entre o material íntimo e a esfera pública, para ficar nos termos que você usou. Nos últimos tempos, o debate sobre a autoficção voltou à tona, sobretudo com o Nobel da Annie Ernaux e o fenômeno pop do Édouard Louis. Apesar de gostar bastante dos dois autores, o exemplo mais cortante de autoficção com que me deparei nos últimos anos foi Triste tigre, da também francesa Neige Sinno, que saiu há uns dois meses pela Record. Não vou dizer que a recepção tenha sido absolutamente pequena — até porque ela foi publicada por uma editora grande, esteve na programação principal da Flip e vem sendo resenhada em veículos relevantes –, mas não bombou tanto quanto os compatriotas. Enfim, para não me alongar, quero dizer que ela parte de uma experiência pessoal extremamente traumatizante — o estupro seriado praticado pelo padrasto — para criar uma literatura reflexiva e dialogar não só com experiências de outras pessoas, como também com violências estruturais.
Fazer arte é construir diálogos e, como um escritor do meu tempo, eu tento entender quais são os pontos de reflexão que fazem sentido e que também jogam com os meus interesses. No Brasil, existe uma tradição de livros e filmes que tratam da ditadura civil-militar e, se você olhar bem, os mais interessantes são os que entendem quais são as feridas que permanecem abertas, gerando traumas transgeracionais. Eu nasci sob o signo da dita democracia, mas sofro as consequências da não responsabilização dos comandantes e torturadores do período ditatorial.
O artista em geral e o escritor em específico é um intelectual público por definição — a não ser que você escreva diários confessionais e não deseje ser lido. E eu não deixo de ser artista quando fecho o computador e paro de escrever a cota do dia. Estou sempre observando, pensando, explorando, me posicionando de uma forma em que o agir-artístico sempre me guia. Claro que existem e sempre existirão camadas invioláveis de intimidade, mas essa transferência de assuntos familiares, que acontecem por excelência entre quatro paredes, para o domínio público é uma performance que me interessa, porque coloca em xeque diversos alicerces da família. Assim, a crítica à estrutura familiar, sobretudo a clássica, ocorre não só na esfera do discurso e seu conteúdo, mas também na sua forma quando eu decido abrir as caixas de sapato em que estavam as fotografias da minha família e convidar o leitor para folhear os álbuns.
Sobre conhecer as pessoas retratadas, hoje eu sei quem são praticamente todos. Mesmo aqueles de cujo nome não me lembro, sei mais ou menos quem são, de que lado da família vêm etc. E, não, não houve nenhuma inspiração direta nas pessoas reais além do que consta na foto. Claro, dependendo da fisionomia e do semblante, da expressão corporal, enfim, de como a pessoa se posiciona ao posar para um retrato ou ser flagrada pelo fotógrafo, já é possível deduzir muito sobre ela, mas não quis me basear fielmente nas histórias dos meus parentes.
Além das fotografias, você usou documentos, tais como carteira de saúde, nota de falecimento, uma nota fiscal. Qual é a diferença entre eles e as fotografias, em especial quanto ao potencial narrativo?
Aí eu preciso te confessar que esses outros elementos gráficos não estavam originalmente nos contos, antes da reunião no livro-álbum. O grosso da criação ficcional se deu à revelia da existência desses documentos, que foram incorporados ao livro já na etapa de edição.
Mas, claro, eles só foram incluídos porque de alguma forma dialogavam com o universo que construí em conjunto dos editores (Laura Del Rey e Victor Pedrosa Paixão) e da artista responsável pela parte gráfica (Letícia Lampert), que considero coautores do projeto.
Existe uma sutil separação do livro em duas partes bastante desiguais. Tudo o que falei até agora é verdade, menos em relação aos quatro últimos contos — esses sim com elementos biográficos dos meus quatro avós. Para fazer essa divisão, escolhemos a nota fiscal à qual você fez menção porque ela em si já conta uma história — de um final de semana que meus avós passaram em um hotel — e tem um erro no nome do meu avô (em vez de Poty, está Pery). Achamos que ela tinha tudo a ver com a transição da ficção mais dura para os textos finais, que se baseiam em fatos ditos reais.
E, sim, vejo toda a potencialidade nesses documentos familiares e, diante deles, me sinto como um historiador torto disposto a contar uma história inventada, que reflete, de alguma forma, a história do país. Não explorei tanto assim esses elementos em Infelizes à sua maneira, mas essa nota fiscal reaparecerá em um livro futuro.
Ainda que as breves cenas retratadas na escrita tenham foco nos personagens, há todo um contexto histórico que os acompanha. Você buscou outras fontes de pesquisa para situar as narrativas? Como lidou com esse processo?
Não houve exatamente uma pesquisa histórica direcionada para a criação das histórias, mas eu atribuí os contextos que já conhecia previamente. Quando escrevi a partir — vocês já sabem que não foi exatamente a partir — de uma foto colorida do começo dos anos 70, resolvi localizá-la temporalmente no período da Copa do Mundo do México, porque coincide com as primeiras transmissões em cores do torneio. Então criei um personagem que está fascinado pela possibilidade de assistir a uma transmissão colorida — o segredo aqui é que, no Brasil, a TV em cores só chegaria dois anos depois, mas já disse que o que me orienta é a ficção. De qualquer forma, a gente sabe que a participação da Seleção Brasileira nessa Copa foi sequestrada pelos militares, que a usaram como propaganda do regime. Paralelamente a isso, rolava a Guerrilha do Araguaia. Uma coisa vai puxando a outra e tudo isso está condensado no mesmo conto.
Seus escritos, conforme a nota ao fim do livro, são “assombrados” pelas fotografias de sua família. Pensando agora como artista que se dispõe a essa tarefa de remexer o passado, qual foi o esforço emocional que o projeto demandou?
Quanto mais eu me aproximava dos quatro textos com elementos biográficos — que desde e o início do projeto eu já sabia que escreveria e que encerrariam o livro –, mais envolvido emocionalmente eu ficava, o que não significa que não tenha sido impactado pelas fotos que geraram construções amplamente ficcionais.
Mesmo sem conhecer pessoalmente boa parte das pessoas retratadas, a gente não mexe no passado e fica impune. Então, ainda que eu construísse histórias completamente diferentes da vida real, aqueles personagens me acompanhavam por certo período e nem sempre foi fácil me despedir deles.
Mas mais do que minha relação pessoal com os familiares retratados — afinal, boa parte eu sequer conheci –, o que pegava mesmo era quando eu tentava entender como as questões essenciais que eu investigava poderia tê-los afetado. As feridas abertas, os traumas transgeracionais, as chagas que se repetem, ainda que por um capricho atávico tenham se escondido por um tempo. Pensar no homem que sou hoje como herdeiro das angústias dos que vieram antes. Aquilo que de mais nefasto eu reproduzo, aquilo que consegui interromper. Tentar entender do que dá e do que não dá pra escapar. Bom, basicamente toda a minha literatura se funda nesse questionamento. Mas isso é assunto pra outro papo.